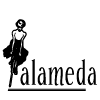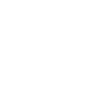Obra investiga como começou a ser definido o ofício de historiador no Brasil entre os anos de 1930 e 1950
O autor analisa obras dos autores clássicos Alfredo Ellis Jr. e Sérgio Buarque de Hollanda. Leia abaixo prefácio da obra de autoria da Professora-Associada da UFPR, Helenice Rodrigues da Silva. O download completo do livro pode ser feito aqui.
A escrita da história no Brasil e no mundo tem passado por um período de grandes mutações desde o final dos anos 1980. As “grandes narrativas”, os projetos teóricos e metodológicos, assim como os políticos de outrora, já não respondem mais as nossas expectativas. A hegemonia da história cultural, estabelecida desde o final dos anos 1980, tem sido tão questionada, como outrora o foram as da história política e diplomática, de meados do século XIX, e da história econômica e social, das primeiras décadas do século passado, e que teve sua era dourada depois da II Guerra Mundial.
Quando passamos a observar as discussões sobre o ofício de historiador que são feitas no interior do “campo” e em outras áreas do saber, nota-se igualmente uma atmosfera de questionamentos e impasses teóricos e epistemológicos. No Brasil surpreende que justamente nesse período de intensos questionamentos se encontre em debate no Senado e no Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar a profissão de historiador no país. Se no Brasil a definição de um campo de pesquisa específico só começou a ser constituído nos anos 1930, com a criação dos primeiros cursos de Geografia e História, sendo por isso consideravelmente tardia em relação a outras partes do mundo, tampouco se vive aqui situação adversa à vivida na Europa ou na América do Norte. E em razão de os mesmos impasses serem aqui sentidos, e talvez até com maior intensidade do que em outros países, porque no Brasil a apropriação de modelos teóricos e metodológicos sempre esteve a alicerçar o(s) campo(s) de estudo(s), e a França sempre foi aqui um “grande paradigma” – e só a partir do final dos anos 1980 foi que começou a haver uma mudança considerável na história da historiografia e nos estudos históricos aqui praticados, com as traduções e discussões de autores ingleses, alemães, italianos e norte-americanos, que desde então têm se tornado cada vez mais férteis e promissoras entre nós historiadores e cientistas sociais.
Em ambos os casos devemos saldar o estudo que Diogo Roiz empreendeu para analisar como começou a ser definido o ofício de historiador no Brasil e a ser pensada a escrita de sua história a partir dos anos 1930, quando esses estudos passaram a ser praticados também por profissionais formados pelas universidades. Para abordar a questão o autor procurou estudar as obras e as trajetórias de Alfredo Ellis Júnior e de Sérgio Buarque de Holanda, entre os anos de 1930 e 1950, quando produziram a maior parte de suas respectivas obras e contribuíram diretamente para a formação das primeiras gerações de professores de história e de historiadores profissionais no país. Além disso, o autor mostra como a atenção de Ellis Júnior esteve pautada na historiografia francesa, ao passo que Sérgio Buarque sempre esteve mais instado pelos debates, apesar de concentrar suas discussões e leituras sobre a historiografia alemã, norte-americana, italiana e a francesa no período em destaque. Com uma pesquisa documental de fôlego em vários arquivos, e sabiamente articulada a uma problematização que perpassou tanto pelas fontes quanto pela bibliografia para dar embasamento a sua interpretação, é que tornaram esse trabalho, para mim, original em vários pontos.
O primeiro deles está em tentar construir uma categoria analítica para pensar os autores em pauta. Para pensar as obras e as trajetórias de Alfredo Ellis Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, Diogo Roiz propôs que ambos poderiam ser inscritos como “intelectual-letrado” e “letrado-intelectual”. Melhor dizendo, enquanto Alfredo Ellis Júnior seria um “intelectual-letrado”, porque ainda estaria inscrito numa tradição bacharelesca, que foi se desenvolvendo no país a partir do século XIX, e seus estudos se pautaram nela ao demarcar a força das tradições e dos exemplos do passado, ao usar o passado como fronteira explicativa do presente (de modo à até justificá-lo em função da ação dos “grandes homens”, onde ele próprio faria parte, junto com sua família), ao mostrar a importância de sua família para a história de São Paulo, e ao pensar a história mais como juiz do processo do que como intérprete da questão. Ao passo que Sérgio Buarque de Holanda se inscreveria como um “letrado-intelectual” por tentar romper com esse discurso, procurar estabelecer caminhos para a definição do ofício de historiador e para a consecução da escrita da história no país, por meio de um intenso debate com a historiografia internacional do Oitocentos e das primeiras décadas do século passado – especialmente a alemã e a francesa (e que em dados momentos era complementada ainda pela italiana e pela norte-americana), como nos mostra o autor.
Mas, para mim, o ponto mais original em sua tese não foi construir essas categorias analíticas (que já são por si só uma enorme contribuição, inclusive para a proposição de estudos comparativos, e particularmente com o levado a cabo pelo autor, até para testar suas hipóteses em outros sujeitos históricos), e sim tentar visualizar nelas um movimento dialético que teria dado impulso para a elaboração das primeiras definições do ofício e da escrita da história, como uma prática de profissionais, formados pelas universidades do país, entre os anos de 1930 e 1950. Para ele, a dialética entre o “intelectual-letrado” e o “letrado-intelectual” que teriam dado o suporte necessário para o começo da definição e da delimitação do ofício de historiador, ao estabelecer como deveria ser o trabalho do pesquisador profissional, do homo academicus nos termos de Pierre Bourdieu, nas universidades brasileiras.
Esse primeiro ponto me leva a chamar a atenção para um segundo. Diogo Roiz tentou articular em seu trabalho as proposições de Pierre Bourdieu sobre o homo academicus, com a tipologia de Jörn Rüsen a respeito da “consciência histórica” (tradicional, exemplar, crítica e genética). E essa articulação se estendeu para as categorias “intelectual-letrado” e “letrado-intelectual”, que na verdade deram o norte para essas articulações. Primeiro, porque para o autor foram elas que deram sentido a uma dialética que proporcionou as condições mínimas necessárias para a proliferação de reflexões sobre o ofício de historiador, e por meio delas da definição do pesquisador profissional nesta área do saber. Depois, porque enquanto Alfredo Ellis estaria entre uma “consciência histórica” de tipo tradicional e exemplar, correspondendo a sua dependência com o bacharelismo e as tradições do passado; Sérgio Buarque movido por uma “consciência histórica” que transitava entre a crítica e a genética em suas obras foi que teve plenas condições de romper com o bacharelismo e as tradições do passado, entre os anos de 1930 e 1950, ao mesmo tempo em que sua obra era entendida plenamente como de história e o seu percurso como o de um historiador profissional – apesar de sua predisposição para a crítica literária e sociológica nunca ter sido abandonada completamente ao longo de sua trajetória profissional.
E esse ponto também é um avanço sobre as análises que têm sido feitas no país, que, em muitos casos, antecipadamente rotulam de “intelectuais” qualquer um que tenha tido uma formação universitária e/ou se tornado um letrado, e participado diretamente das contendas políticas e culturais que moveram o país a partir do Oitocentos. Para Diogo Roiz, Alfredo Ellis Júnior foi muito mais um letrado, do que um intelectual; mas em seu percurso e em seus escritos, Ellis Júnior teria associado sua formação jurídica às condições necessárias para agir como um “intelectual” em seu tempo, e como tal assim se colocava em vários de seus escritos, especialmente, os de cunho político dos anos 1930, que articulava sua formação em Direito nas suas interpretações históricas. Por sua vez, Sérgio Buarque, já em Raízes do Brasil (de 1936), notava que a formação jurídica não era uma pré-condição para que o letrado pudesse agir como um (verdadeiro) “intelectual”, mas muito mais para formar uma predisposição política, com desdobramentos “conservadores” em suas ações, por primar exclusivamente pela permanência de uma ordem jurídica e institucional já em vigor no país, e nelas defender um status quo vigente entre as camadas dirigentes do país. Para Sérgio Buarque, como nos mostra o autor, o “intelectual” era antes de tudo um questionador de seu contexto e de sua própria obra, agindo como crítico e autocrítico permanentemente do sistema político e sociocultural e de suas próprias ações e escritos. De modo que o agir político no interior da sociedade civil era fundamental, mas a ação político-partidária não.
Com isso, o autor nos mostra outro movimento: o que torna o “letrado” um “intelectual” em seu tempo e para além de sua época. Além de destacar outros movimentos simultâneos, ao comparar as obras e as trajetórias de Alfredo Ellis e Sérgio Buarque, como: a do “homem de letras” em “pesquisador profissional”, e a do “autodidata” em “historiador de ofício” – e assim reconhecido pelos “pares”.
Esses dois pontos me levam a pensar num terceiro, intimamente articulado aos primeiros, e que diz respeito à própria divisão do trabalho. Pois, para mostrar sua tese, Diogo Roiz dividiu seu trabalho em duas partes: a primeira com cinco capítulos e a segunda com dois.
Na primeira parte, que corresponderia, em suas palavras, “a uma guerra de ideias” travada pelos letrados nos anos 1930 e 1940, cada um dos capítulos aborda uma batalha: pela temporalidade, pela periodização, pela verdade histórica, pela representação do passado e pelas regras do método. No entanto, apesar dessa estratégia analítica poder ser comparável com a “operação historiográfica” proposta por Michel de Certeau, esta primeira parte me parece que vai além das indicações de Certeau, por estar articulada a segunda parte de sua pesquisa, e também aos pressupostos de Bourdieu e Rüsen, o que faz com que o texto além de observar lugares, práticas e escritas, também inquira os “campos”, “habitus”, “bens simbólicos” e suas intrincadas “redes de relações”. Mas, antes de ir para esse ponto, quero apontar mais um aspecto nessa parte: sua preocupação em explorar não somente a trajetória de Alfredo Ellis Júnior e de Sérgio Buarque de Holanda, mas mostrar como ambos se movimentaram em seus espaços de atuação profissional, e ao mesmo tempo dando ênfase a especificidade do contexto sociocultural em que viveram os autores analisados. Nesse aspecto, o autor destaca a relação entre texto e contexto, e como o contexto era articulado nas proposições dos autores em pauta nos seus respectivos textos.
Na segunda parte, e ai está o ponto de articulação, o autor se encarrega de rastrear as “redes de relações”, ao adentrar na análise da trajetória e da produção de cada um dos autores ao longo do tempo – e, assim, destacando o que, para mim, é fundamental na “história intelectual”: o cruzamento entre análises sincrônicas e diacrônicas, entre um espaço de atuação profissional e as possibilidades de produção de uma obra ao longo do tempo e numa dada época, e suas discussões e limitações, ou seja, entre as condições de elaboração dos textos e os seus respectivos contextos de produção. Nesse ponto, o autor indaga como Alfredo Ellis Júnior, em razão de suas escolhas teóricas e metodológicas, assim como políticas, foi instado a formar uma rede de relações, cujo centro de ação estava todo ele em São Paulo. Enquanto Sérgio Buarque de Holanda, cuja formação e percurso profissional não se limitaram a São Paulo (como o foi para o caso de Ellis Júnior), estabeleceu uma rede de relações de caráter internacional, e ela própria ajudou o autor empreender um (re)exame crítico e autocrítico de sua obra, definindo-a como “histórica” e seu autor como “historiador de ofício” a partir do final dos anos 1940.
E para demonstrar o processo de síntese das relações entre as categorias “intelectual-letrado” e “letrado-intelectual” e que teria dado base ao começo das discussões sobre o ofício de historiador e a definição do pesquisador profissional no país neste campo do saber, o autor mostra como foram feitas às avaliações sobre as primeiras edições das obras de Sérgio Buarque de Holanda: Raízes do Brasil (de 1936), Cobra de vidro (de 1944), Monções (de 1945), Caminhos e fronteiras (de 1957), e Visão do Paraiso (de 1959), por meio de um exame detalhado dos comentários e resenhas que saíram em jornais (na imprensa periódica de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente) e em revistas culturais e universitárias (que começavam a ser fundadas no período). Ao identificar os comentários e as críticas dos cerca de 140 textos publicados em jornais e revistas, e produzidos entre os anos de 1930 e 1950, sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda, o autor mostra como o percurso de Sérgio, que foi inicialmente identificado como “crítico literário” e “sociólogo” nos anos 1930, chegaria aos anos 1950 sendo quase que unanimemente percebido/definido como um “historiador profissional”, inclusive, pelos “pares” de ofício – soube conciliar tal percurso, com seus textos e suas leituras de crítica literária e sociológica, e que se mantiveram, aliás, coexistindo com seus textos de caráter histórico. Como Diogo Roiz nos mostra, mesmo Sérgio Buarque percebeu nesse percurso a sua originalidade, pois a crítica literária e sociológica (depois acrescida com seus estudos e leituras etnográficas) foi que lhe permitiu avançar sobre a análise histórica, o estudo das fontes e a identificação de um corpus documental mais amplo para o encaminhamento de suas pesquisas e a produção de seus textos históricos, a partir de meados dos anos 1940.
Com isso, o autor consegue, para mim, efetuar o cruzamento das fontes e da bibliografia com base numa problemática consistente que lhe possibilitou fazer uma interpretação original do período e dos autores em pauta. E ao fazê-lo, mostra-nos como as obras de Rüsen e Bourdieu podem ser eficazes para a elaboração de uma história intelectual e dos intelectuais no Brasil. E nisso fez o que eu chamei a atenção a pouco, isto é, perceber como lugares, práticas e escritas são insuficientes para a análise e o questionamento dos textos e dos contextos de produção em seus pormenores, mas quando associados aos “campos”, “habitus”, “bens simbólicos” e suas intrincadas “redes de relações”, o pesquisador tem condições de avançar em suas interpretações, ao estudar as relações entre texto e contexto e sua(s) dinâmica(s) no tempo.
Por fim, e um ponto a acrescentar aos anteriores, é o percurso que Diogo Roiz está fazendo. Somente em 2012 o autor lançou três livros: Os caminhos (da escrita) da História e os descaminhos de seu ensino; Linguagem, cultura e conhecimento histórico; e As transferências culturais na historiografia brasileira: leituras e apropriações do movimento dos Annales no Brasil – este último com Jonas Rafael dos Santos e que eu tive o prazer de Apresentar. No primeiro, estudou o percurso do curso de Geografia e História da USP no período inicial da constituição de seu campo disciplinar entre os anos 1930 e os anos 1960. No segundo, as relações entre História e Literatura; e no terceiro as leituras e apropriações que foram feitas sobre o movimento dos Annales no Brasil. Dei esse exemplo para mostrar que sua tese além de estar intimamente ligada a essas problemáticas, também avança consideravelmente sobre elas, e, em alguns casos, nos fornecendo algumas sínteses e novos questionamentos e hipóteses instigantes.
Em todos esses pontos, acredito que o novo trabalho de Diogo Roiz, cuja marca desde o momento de sua defesa (e agora em sua versão revista para publicação) foi a de grande erudição, e que muito me alegrou ter orientado, trará grande contribuição para as discussões sobre história intelectual, história da historiografia brasileira e teoria da história, no espaço acadêmico brasileiro e mesmo internacional.